A perda de calor produzido nos fios elétricos ou nos freios de carros é bem conhecida. O que ainda não estamos familiarizados é com a perda de calor que ocorre ao apagarmos uma memória digital. Agora, um experimento inspirado em um demônio metafórico, que ficou conhecido na física como Demônio de Maxwell, conseguiu medir este calor fundamental, que poderá um dia limitar a potência dos computadores.
Em 1867, o físico James Clerk Maxwell descreveu a seguinte experiência imaginária:
..." Se nós imaginássemos um ser, que tivesse uma capacidade tão apurada, de tal forma que ele pudesse acompanhar o caminho de cada molécula, e cujos atributos fossem essencialmente finitos como os nossos, tal ser teria a habilidade de fazer o que é impossível para nós. Sabemos que as moléculas, em um recipiente cheio de ar à temperatura uniforme, se movem com velocidades que não são uniformes, embora a velocidade média de um grande número delas, arbitrariamente selecionadas, é quase exatamente uniforme. Agora vamos supor que tal recipiente fosse dividido em duas partes, A e B, com uma divisão na qual houvesse uma estreita passagem, e que aquele ser, que pudesse ver as moléculas individualmente, abrisse e fechasse esta passagem, a fim de permitir que somente as moléculas mais rápidas passassem de A para B, e apenas as mais lentas passassem de B para A. Ele iria, desse modo, sem realizar trabalho, elevar a temperatura de B e abaixar a de A, em contradição com a segunda lei da termodinâmica"...
..." Se nós imaginássemos um ser, que tivesse uma capacidade tão apurada, de tal forma que ele pudesse acompanhar o caminho de cada molécula, e cujos atributos fossem essencialmente finitos como os nossos, tal ser teria a habilidade de fazer o que é impossível para nós. Sabemos que as moléculas, em um recipiente cheio de ar à temperatura uniforme, se movem com velocidades que não são uniformes, embora a velocidade média de um grande número delas, arbitrariamente selecionadas, é quase exatamente uniforme. Agora vamos supor que tal recipiente fosse dividido em duas partes, A e B, com uma divisão na qual houvesse uma estreita passagem, e que aquele ser, que pudesse ver as moléculas individualmente, abrisse e fechasse esta passagem, a fim de permitir que somente as moléculas mais rápidas passassem de A para B, e apenas as mais lentas passassem de B para A. Ele iria, desse modo, sem realizar trabalho, elevar a temperatura de B e abaixar a de A, em contradição com a segunda lei da termodinâmica"...
Este ser, finito e imaginário, que controlaria a abertura e fechamento da passagem entre A e B, foi descrito pela primeira vez como o Demônio de Maxwell, pelo físico conhecido como Lord Kelvin, em um artigo de 1874, publicado na revista Nature, e tinha a conotação de um ser destinado à mediação, e não o significado malevolente da palavra.
 |
| Figura esquemática, mostrando a atuação do Demônio de Maxwell. |
Veja na figura acima, uma representação esquemática do experimento. As bolinhas vermelhas representam as moléculas mais quentes (mais rápidas), e as bolinhas azuis representam as mais frias (mais lentas).
Críticas e Desenvolvimento
O Objetivo de Maxwell era mostrar que a 2ª Lei da Termodinâmica tem somente uma certeza estatística, e que poderia ser violada em flutuações momentâneas. Muitos físicos, no entanto, têm mostrado através de cálculos, que esta lei não é violada, se uma completa análise for feita considerando-se todo o sistema, incluindo-se o demônio.
Em 1961, o físico Rolf Landauer, que trabalhava na IBM, propôs que a chave para o enigma estava na memória do demônio. Para que a criatura reunisse informações sobre o movimento das moléculas, ela precisaria apagar uma memória anterior. Landauer sugeriu que o processo de apagamento dissiparia calor. Este calor gasto poderia equilibrar o trabalho útil adquirido pelo demônio e garantir que, de fato, não houvesse diminuição da entropia, a grandeza física que indica a medida da "desordem" de um sistema.
Exorcizando o Demônio
Quando Landauer propôs que o ato de apagar a memória dissiparia calor, nem todos concordaram com sua explanação. Agora, recentemente, este artigo da New Scientist desta semana, nos informa que o físico Eric Lutz , da Universidade de Augsburg, na Alemanha, e seus colegas, demostraram que há de fato uma quantidade mínima de calor produzido por bit de dados apagados. Este assim chamado limite de Landauer é a prova de que o Demônio não se alimenta de graça. "Nós exorcizamos o Demônio", diz Lutz.
Os "exorcistas" utilizaram um laser que podia definir a posição de um pequeno grânulo de vidro. O laser era focado para dar aos grânulos duas posições estáveis, esquerda e direita, ou 0 e 1. A memória resultante de um bit pode armazenar um 0 ou 1, mas as memórias são sempre apagadas pelo restabelecimento delas de volta ao 0. A equipe descobriu que o calor gerado ao apagar um bit nunca é inferior ao limite de Landauer.
Isto tem implicações profundas para a indústria de microchips, diz Lutz. Atualmente os chips produzem aproximadamente 1000 vezes mais calor por bit, devido à resistência em seus fios. Os fabricantes de chips estão trabalhando nisso, mas vai chegar um ponto em que não se poderá mais reduzi-lo. "A tecnologia baseada no Silício prevê que este limite de Landauer poderá ser atingido daqui a 20 ou 30 anos", diz Lutz. Aí então, a capacidade de compactar cada vez mais bits em um único chip dependerá da maneira que deverá ser encontrada para resfriá-los mais eficazmente, assim que eles começarem a brilhar com o calor fundamental do esquecimento.
Fontes:
Newscientist.com - physics "demon" reveals fundamental heat of forgetting
http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_demon








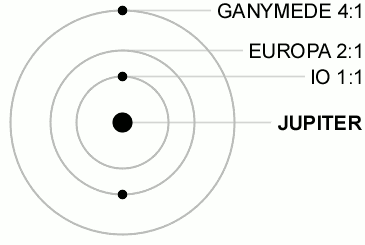
































.jpg)



